A PRISÃO DOS RESSENTIMENTOS E DOS BENS MATERIAIS
- Davi Roballo

- 26 de jun. de 2022
- 2 min de leitura
Atualizado: 13 de jul. de 2025

No fundo da alma, onde os afetos silenciosos ainda operam como forças determinantes da existência, algo se cristaliza sempre que escolhemos guardar — seja um objeto, uma mágoa ou uma ausência. O que se guarda, guarda de volta. E há um tipo de prisão que não se ergue com grades nem se impõe com sentenças, mas que se constrói com a sutileza das repetições afetivas: ressentimentos que se acumulam como entulhos no espaço psíquico e bens materiais que se empilham como substitutos do amor perdido ou jamais vivido.
O ressentimento é um retorno não elaborado do passado. Um afeto congelado, recusado à simbolização. Ele se reapresenta, insistente, como se dissesse: “algo ficou por ser sentido.” E ao não se permitir que esse afeto seja metabolizado, ele se torna sintoma — repete-se, adoece, obscurece o presente. Viver ressentido é manter a alma em dívida com aquilo que não se conseguiu aceitar. O outro é mantido em cárcere interno, mas quem cumpre a pena somos nós mesmos.
Da mesma forma, os bens materiais que acumulamos como troféus do esforço, ou como amuletos contra a perda, muitas vezes ocupam o lugar de afetos não elaborados. Substituímos o vínculo pelo objeto, a presença pela posse. Mas objetos não devolvem o olhar, não acolhem, não nos escutam. Por isso, acumulam-se coisas como se fossem respostas, e terminamos cercados por silêncios que pesam. A casa cheia de coisas é, muitas vezes, o reflexo de uma alma congestionada por memórias não digeridas.
A sensação de controle que o acúmulo oferece é ilusória. Ao tentar preservar tudo — o rancor, o trauma, o objeto — não percebemos que deixamos de fluir com o tempo. O tempo, este operador implacável do psiquismo, exige circulação: para viver, é preciso deixar ir. E o que não é deixado ir, torna-se presença fantasmática. Torna-se atraso. Torna-se repetição do mesmo. A vida, então, passa — não como um evento repentino, mas como um escorrimento lento e contínuo daquilo que deixamos de habitar.
Desapegar-se, nesse sentido, é gesto de elaboração. Não se trata de renunciar, mas de simbolizar. Perdoar não é esquecer, é aceitar que o passado não pode ser refeito — e, ao fazer isso, resgatar a potência de viver o presente. Desfazer-se de objetos não é empobrecer, é abrir espaço psíquico para o novo, para o encontro, para o vazio fértil. A liberdade interior nasce do reconhecimento de que a vida não cabe numa estante nem se resolve com acertos de contas internos com fantasmas que insistimos em manter.
O que se guarda em excesso, guarda o sujeito do fluxo da vida. E quando finalmente a consciência percebe que a existência não se mede pela soma de posses ou pela persistência das mágoas, mas pela qualidade da presença, talvez seja tarde — mas ainda seja possível. O tempo que resta, por mais curto que pareça, sempre pode ser habitado com mais leveza, se houver coragem para abrir mão do fardo. Não é uma questão de moral. É uma questão de saúde psíquica: deixar ir é, muitas vezes, o único modo de permanecer.
_____ Heitor Souto-Maior \ Decifrador da Alma Humana e Heterônimo de Davi Roballo
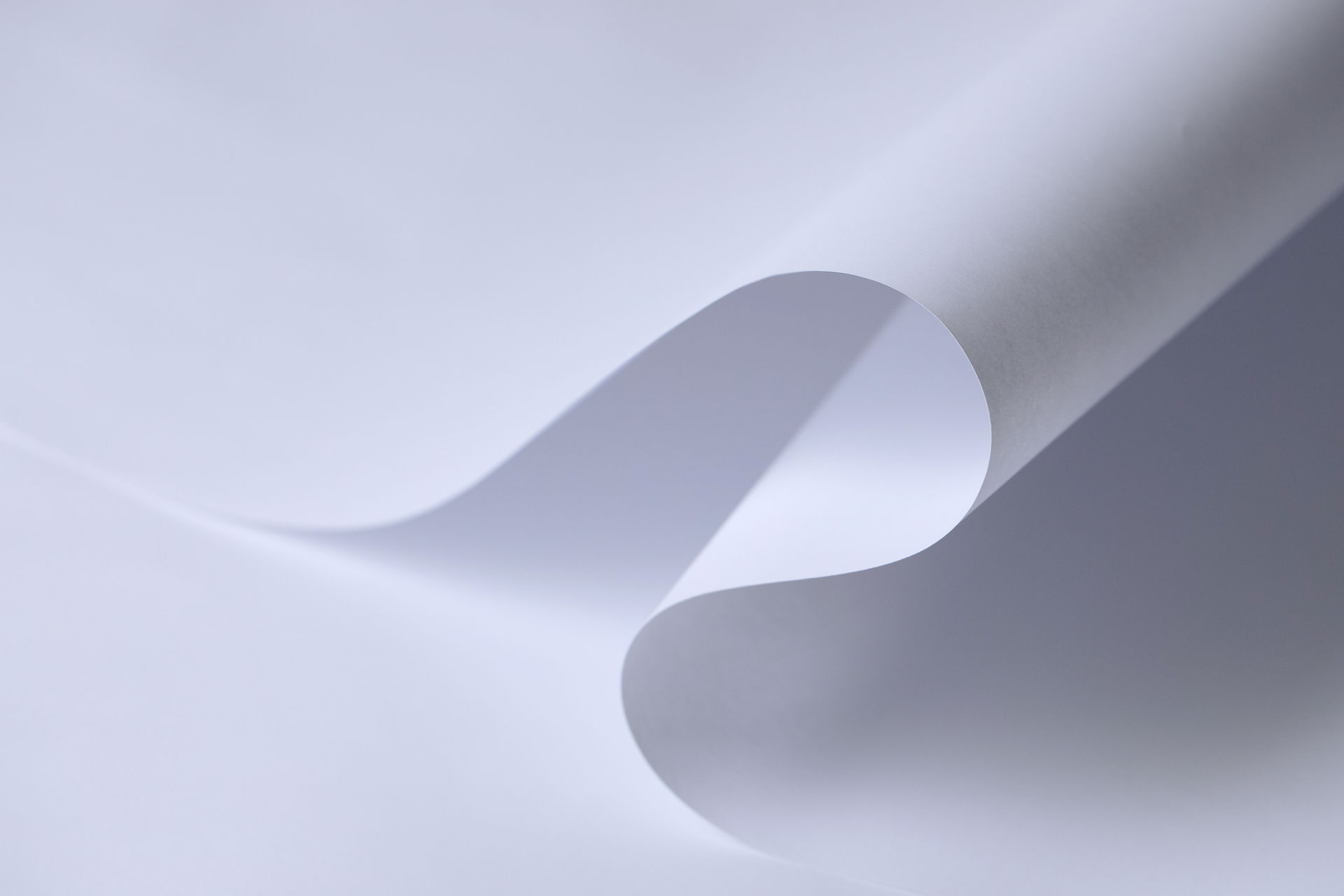



Comentários