AS MÃOS QUE SABEM COLHER
- Davi Roballo

- 9 de set. de 2025
- 2 min de leitura

Na cerca dos fundos da casa do vizinho Antônio, havia uma amoreira que ninguém plantou. Cresceu ali sozinha, teimosa como erva daninha, até se tornar árvore de verdade, com galhos que se estendiam por cima do muro baixo.
Era no final de dezembro que as amoras amadureciam, primeiro vermelhas como sangue, depois negras como a noite que cai sobre os quintais das casas simples.
Minha mãe dizia que amora não se compra, se ganha. Disse isso enquanto estendia as mãos em direção aos galhos, os dedos já roxos do suco que escorria entre as linhas da palma.
Havia um jeito certo de colher amoras: devagar, com cuidado, para não esmagá-las antes que chegassem à boca. Cada fruta era um pequeno milagre que se desfazia na língua como uma oração doce.
As mãos ficavam manchadas por dias. Água e sabão não conseguiam apagar completamente as marcas roxas que se alojavam debaixo das unhas, nas dobras dos dedos.
Era como se a fruta quisesse deixar sua assinatura em quem a colheu, uma marca que dizia: "Lembra de mim, eu estive aqui, fui sua por um instante."
Agora, quando vejo amoras no mercado, presas em bandejas de plástico, sinto pena delas. Perderam a chance de sujar as mãos de quem as colheu, de deixar sua marca roxa nos dedos como uma tatuagem temporária.
As mãos que colhem carregam mais que frutas. Carregam o peso do momento, o perfume da manhã, a lembrança do galho que se curvou para entregar seu tesouro.
Há uma intimidade entre o fruto e os dedos que o tocam, um segredo sussurrado no instante em que a amora se desprende do galho e encontra o aconchego da palma da mão.
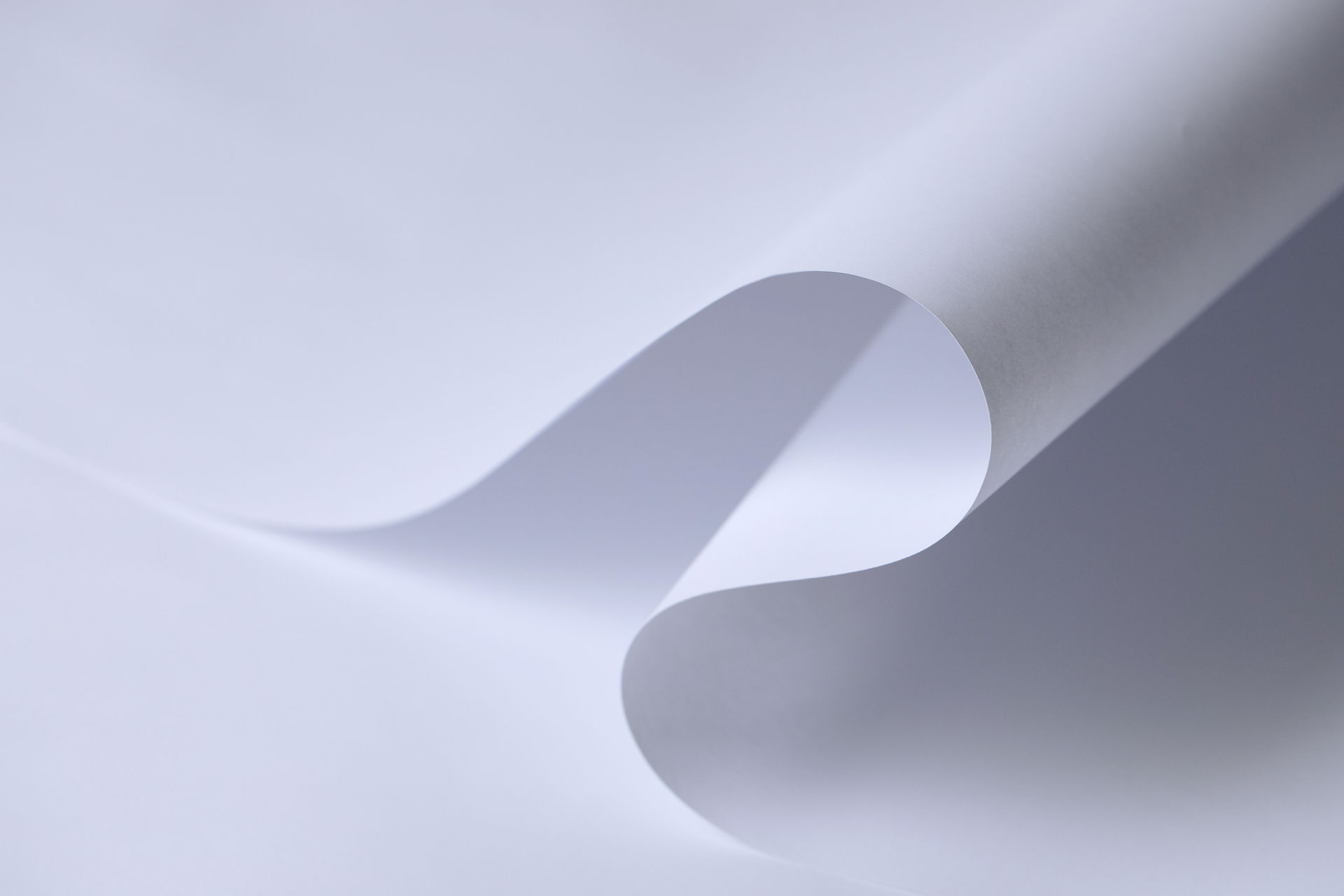



Comentários