O ESPELHO INVERSO DO SER
- Davi Roballo

- 21 de dez. de 2023
- 4 min de leitura
Atualizado: 1 de jul. de 2025

Há um incômodo que nos atravessa quando nos deparamos com aquele que nomeamos inimigo — um desconforto que não reside exatamente na ameaça que ele representa, nem tampouco em sua força ou virulência. O verdadeiro incômodo nasce do reconhecimento silencioso de uma semelhança incômoda. O que há no outro que tanto nos irrita é, quase sempre, aquilo que em nós mesmos não suportamos ver. O inimigo, longe de ser um estranho absoluto, é um espelho invertido, uma espécie de eco existencial, de duplicata obscura daquilo que escondemos sob nossas vestes morais e racionalizações cuidadosas.
Esse reflexo nos constrange porque fere a imagem idealizada que temos de nós mesmos. Vemos no outro — aquele que rejeitamos — uma centelha que acreditávamos ser exclusivamente nossa: a vitalidade que também pode ser destrutiva, o impulso que, quando não reconhecido, escapa pelos poros da negação. E assim, o ódio que nutrimos não é repulsa pura: é denúncia. Denúncia de uma afinidade secreta. De um parentesco psíquico que tentamos exilar. O inimigo nos devolve o rosto que queremos esquecer, o traço que silenciamos, o gesto que um dia cogitamos e não ousamos praticar — ou praticamos e depois renegamos, como se nunca tivesse sido nosso.
Cada julgamento que proferimos carrega em si um retorno. A mão que aponta, na verdade, tateia os contornos do próprio abismo. Três dedos voltados para dentro denunciam o palco real do confronto: não é fora, é dentro. O outro apenas encena o papel que recusamos em nossa peça interna. Ele nos serve como palco de projeções, depósito de pulsões recalcadas, figura sacrificial onde depositamos os aspectos de nós mesmos que desejamos eliminar — não por serem alheios, mas por serem íntimos demais.
Na dinâmica psíquica, aquilo que reprimimos não desaparece: retorna mascarado, disfarçado na alteridade. O que rejeitamos no outro é, com frequência, um conteúdo nosso que se tornou intolerável. Freud já nos advertia: o eu não é senhor em sua própria casa. E o inimigo, com sua presença intrusiva, tem o dom de expor essa verdade com brutalidade. Ele desmonta nossas defesas, contamina nossa racionalidade, dissolve a fronteira entre “eu” e “ele” ao nos mostrar que o que odiamos é familiar — um familiar estranho, um duplo inquietante.
É por isso que todo antagonismo, se olhado em profundidade, revela-se um fenômeno de espelhos. O outro é um reflexo, sim, mas não um reflexo qualquer: é um espelho côncavo, deformado pela emoção, mas ainda assim revelador. Nele, vemos nossas virtudes esticadas até se tornarem vícios, nossa luz transformada em sombra. E quanto mais negamos essa imagem, mais ela insiste em nos perseguir — porque o inconsciente não se
deixa enganar por nossas versões oficiais da história.
O verdadeiro inimigo, então, não nos afronta apenas com palavras ou gestos. Ele nos expõe. Ele é o portador das chaves que abrem as portas interditadas de nossa subjetividade. E é por isso que o ressentimento, muitas vezes, é mais denso que a raiva: porque ele carrega em si a memória de algo partilhado. O outro sabe de algo nosso — mesmo sem saber. Ele intui, encarna, reflete. E nós, ao odiá-lo, tentamos silenciar esse saber incômodo.
No fundo, não há guerra real fora que não seja precedida por uma batalha psíquica dentro. As trincheiras do mundo exterior são, antes, escavações da alma. O campo de batalha é interno, e os danos sofridos no confronto são feridas narcísicas. Porque o que está em jogo não é apenas o desacordo, mas a imagem que construímos de nós mesmos. Toda oposição é, em alguma medida, um teste para essa imagem. E toda tentativa de aniquilar o inimigo é também uma tentativa de preservar essa ficção interior de pureza, de coerência, de unidade.
Mas o eu é múltiplo. O eu é contraditório. O eu carrega dentro de si tanto o agressor quanto a vítima, tanto o carrasco quanto o redentor. E talvez a verdadeira maturidade emocional não consista em vencer o inimigo, mas em escutá-lo. Ver nele a figura que falta para completar nosso mosaico interno. Ver que ele não está ali para ser destruído, mas para ser compreendido — não enquanto outro, mas enquanto extensão de nós mesmos.
A psique, quando lida com honestidade, nos conduz a uma ética radical: a de que a reconciliação não é fraqueza, mas força interior. Reconhecer-se no reflexo é o primeiro passo para a liberdade. Pois enquanto odiamos, estamos presos — ao passado, ao trauma, à fantasia de sermos indivisos. A liberdade só emerge quando permitimos que o reflexo nos alcance, quando nos deixamos tocar pela imagem imperfeita que o outro nos devolve, quando aceitamos que não somos senhores do bem, mas aprendizes da ambivalência.
Não se trata, portanto, de fazer as pazes com o inimigo exterior, mas de cessar a guerra contra as partes renegadas do próprio ser. E isso só se faz na escuta, na pausa, no abandono da necessidade de estar certo. Aquele que chamamos de adversário é, na verdade, o guardião da chave que abre a porta do quarto mais escondido da alma. E é lá, naquele cômodo escuro onde empilhamos nossas vergonhas e fragmentos recalcados, que mora a possibilidade mais radical: a de integrar o que foi separado, de amar o que foi odiado, de ser inteiro onde antes só havia cisão.
A transcendência não é a eliminação do conflito, mas a aceitação da sua inevitabilidade. Somos seres divididos, habitados por contrários. E talvez o verdadeiro gesto de coragem não seja o ataque, mas o acolhimento. O abraço do estranho que habita em nós — esse outro que chamamos de inimigo e que, ao final, sempre esteve à espreita, esperando que o reconhecêssemos como parte. O caminho da paz não é o da indiferença, mas o da reconciliação lúcida com a sombra.
Pois só quem ousa olhar no espelho e não desviar o olhar é capaz de amar com profundidade. E só ama de verdade aquele que já deixou de odiar a si mesmo.
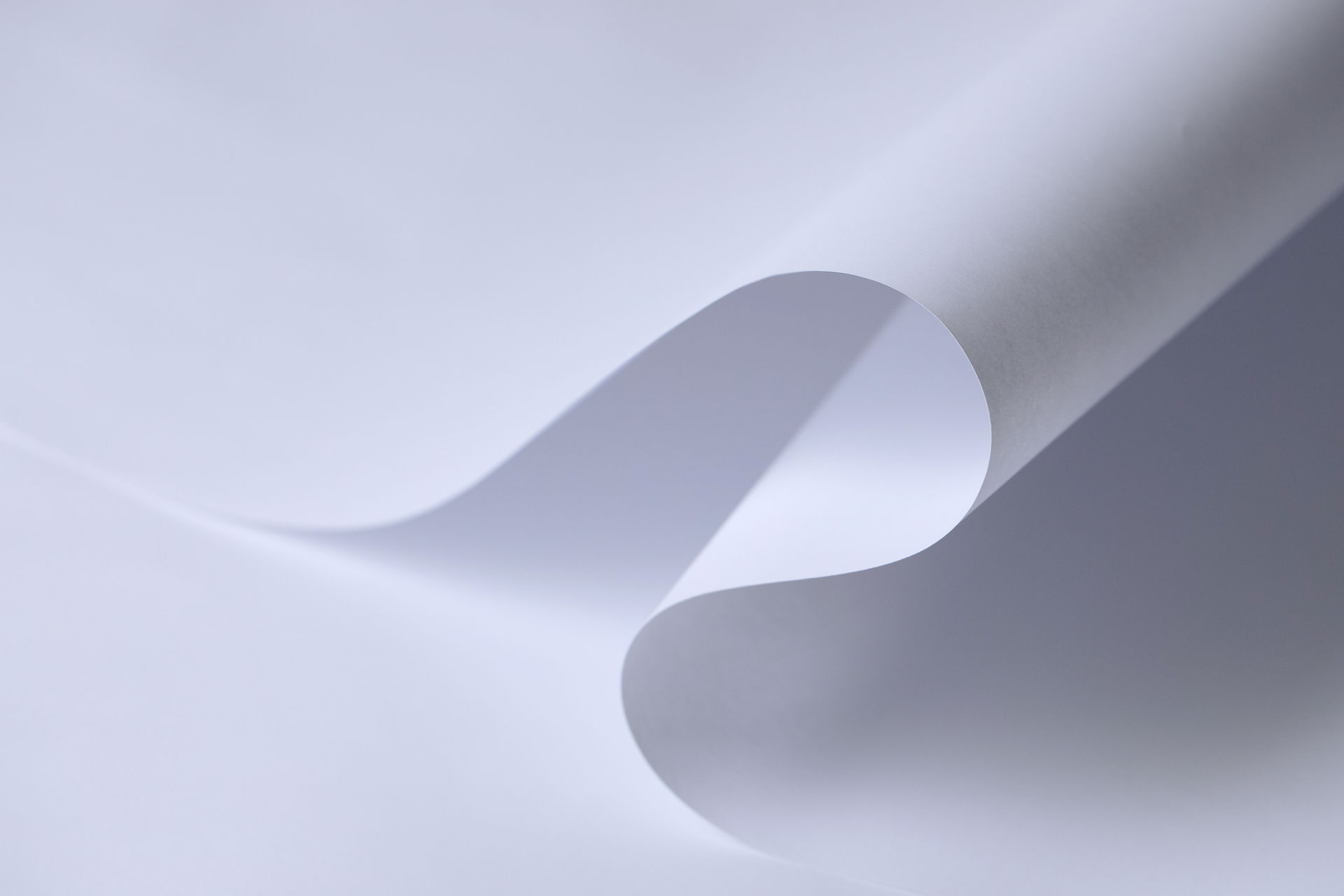



Comentários